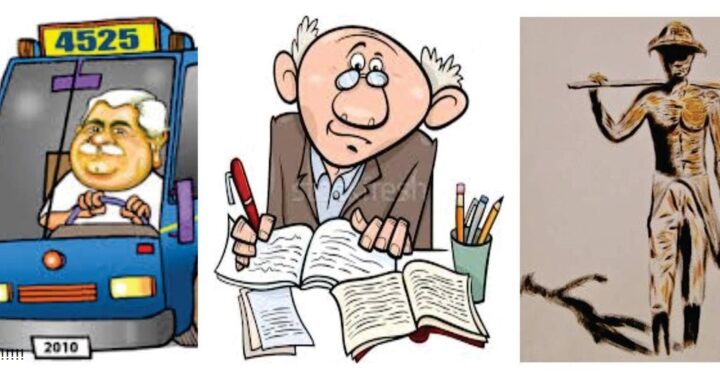CARLOS MANDRINI: ANTES DE TUDO, UM MOÇO!
 |
| © Pedro Paulo Paulino |
A cada manhã, ele aparecia pontualmente na calçada, caminhando com a mansidão do homem realizado e feliz. Tal impressão ganhava mais realce quando ele pisava o estreito espaço da venda onde o esperava o café quente. Pois ali, com gestos nobres e simpáticos, voltado para o recinto, cantarolava coisas de outros tempos. A voz até que não era ruim, e o sucesso do dia – jamais repetido – ecoava de praxe um Nelson Gonçalves, um Orlando Silva, um Silvio Caldas, ou uma marchinha de carnaval… nada, a rigor, que não remetesse a qualquer página antiga do cantar do povo. Havia já um embrião de fã-clube para ouvi-lo: plateia composta de biscateiros, flanelinhas, boêmios, ociosos e gente, enfim, que sem maior compromisso amanhece na rua. Após os aplausos e o café, puxava do bolso e acendia o “lasca peito”, como assim apelidara o cigarro.
Carlos Mandrini é como o conheci, nos meados de noventa, e nada mais sei dele afora os anos, que já devia contar uns sessenta. Longo tempo atravessou no centro comercial de Canindé, onde em alguma esquina instalava sua pequena banca do jogo do bicho. Risonho sempre, comunicativo e gentil, Mandrini preservava modos corteses, sabia falar e ouvir com atenção e atualizava-se todos os dias pelo jornal que comprava.
Competindo com o comércio do jogo do bicho, via-se sobre sua banca alguns desses recipientes com unguentos ou soluções medicinais caseiras. Mandrini era também mezinheiro. Vestia invariavelmente camisa branca e conservava bem composta a cabeleira grisalha. Ficamos amigos e eu tinha deveras admiração por sua aura positiva. Nada, exceto um detalhe mínimo, afetava seu espírito alegre. Os bem avisados jamais o chamavam “seu” Carlos. Essa partícula de tratamento era interpretada por ele como ofensa grave. Um bofete na sua vaidade. A repreensão, educada mas austera, vinha na hora. Que ficasse bem claro: Mandrini era, antes de tudo, um moço!
Em particular, eu enxergava nele a miragem do homem mais feliz da cidade: o capitalista sem dinheiro, o patrão sem empregado, o potentado sem luxo, o emergente sem status, o artista sem fama. “Para se ser feliz até um certo ponto, é preciso ter-se sofrido até esse mesmo ponto”, teria dito Edgar Alan Poe, e cabe perfeitamente no coração de Carlos Mandrini. Pois era assim, que a cada manhã, lá estava ele encarando, cordial e confiante, no mesmo ponto, o desafio da sobrevivência; e ali, no mesmo ponto, no meio da indiferença urbana, partilhando com todo mundo a sua riqueza interiormente espontânea, e repetindo sua receita própria de felicidade.
Na boca da noite, completava-se o ritual de costume. O café dava lugar ao conhaque e ao boêmio que nele havia, a cantarolar ainda mais inspirado, mais alto! Concluía a apresentação, dizendo sempre: “Se não fosse a música, o mundo era cheio de ruídos horrorosos”. Punha o jornal debaixo do braço, despedia-se e, pela mesma calçada, desaparecia, pé aqui, pé acolá, rumo ao subúrbio. E foi num desses dias, que Carlos Mandrini desapareceu, dessa vez, rumo ao infinito.